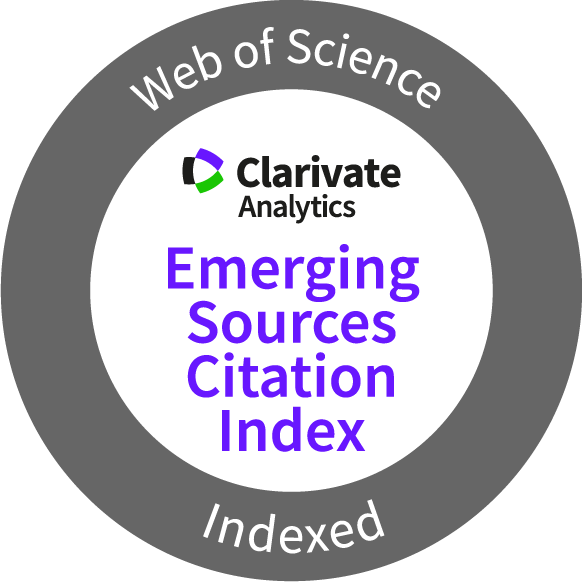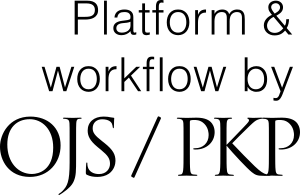Reinventar la perspectiva de la educación rural a partir del diálogo con los saberes ancestrales: una lectura desde la perspectiva de las Epistemologías del Sur
DOI:
https://doi.org/10.70860/ufnt.rbec.e18727Resumen
RESUMEN. Este artículo presenta resultados parciales de un proyecto de investigación de maestría en Educación (actualmente en su etapa final), que se centra en el currículo escolar en comunidades quilombolas de la Amazonia, con énfasis en los avances y limitaciones del reconocimiento de territorios ancestrales. Para los fines de este artículo, abordamos las contribuciones del conocimiento ancestral de los pueblos rurales a la reinvención de la educación rural en la Amazonia, utilizando Epistemologías del Sur como marco teórico para el diálogo. El artículo busca analizar cómo el conocimiento de grupos históricamente subalternizados puede desafiar las lógicas curriculares hegemónicas y contribuir a la construcción de prácticas pedagógicas interculturales y democráticas. Este es un estudio cualitativo, utilizando el estado del conocimiento como estrategia metodológica. Esta revisión bibliográfica inicial indica un creciente interés académico en el conocimiento ancestral en el campo educativo, aunque persisten desafíos estructurales para su valorización en los currículos escolares y en la sociedad brasileña. El estudio refuerza la necesidad de políticas públicas y prácticas pedagógicas que reconozcan y aborden estos conocimientos y otras formas de vida, ampliando la visibilidad de la educación para las poblaciones rurales, del agua y de los bosques, comprometidas con la crítica y la emancipación.
Descargas
Citas
Albuquerque, M. B. B. (Org). (2016). Saberes da experiência, saberes escolares: diálogos interculturais, Belém: EDUEPA
Arroyo, M. (2012). Outros sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis: Vozes.
Bosi, É. (2003). O tempo vivo da memória: Ensaios da psicologia social. São Paulo: Ateliê Editorial.
Brandão, C. R. (2002). Educação como cultura. Campinas, SP: Mercado de Letras.
Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. (2002). Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002
Caldart, R. S. (2007). Sobre Educação do Campo. In III Seminário do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), Luziânia, GO.
Caldart, R. S., & Kplling, E.J., Cerioli, P.R. (Org.). (2002). Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília, DF: articulação nacional Por Uma Educação do Campo. Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 4.
Corrêa, S. R. M. (2005). Educação dos Movimentos Sociais do Campo: construindo um currículo de práxis. Anais (Colóquio Internacional Políticas e Práticas Curriculares. CD-Rom), 2, 84.
Corrêa, S. R. M., & Hage, S. M. (2011) Amazônia: a urgência e necessidade da construção de políticas e práticas educacionais inter/multiculturais. Revista Nera – Ano 14, 18.
Corrêa, S. R. M., (2020). O Movimento dos Atingidos por Barragens: interpelando o debate do desenvolvimento no Brasil e na Amazônia. Revista de Ciências Sociais, 50(3), 423–467.
Corrêa, S. R. M., & Nascimento, M. D. F. (2021). Desenvolvimento rural e educação do campo na Amazônia: um estudo da experiência de transição agroecológica no MST. Revista Brasileira de Educação do Campo, 6, 1-23. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e12229
Fernandes, F. (2008) A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Globo. 2v.
Fernandes, F. (2020). A sociologia da consciência social. Margem Esquerda, 34.
Freire, P. (2013) Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Freire, P. (1979) Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Tradução Kátia de Mello e Silva. São Paulo: Cortez & Morales.
Freire, P. (2005). Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 28ª ed,
Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. Recuperado de: http://crieducando.blogspot.com/p/fichamento.html Acesso em: 10 de out. 2023.
Gadotti, M. (2003). Boniteza de um sonho: ensinar e aprender com sentido. Novo Hamburgo: Feevale
Gomes, N. L. (Org). (2022). Saberes das lutas do movimento negro educador. Vozes. 9 novembro 2022.
Gomes, N. L. (2012). Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo sem Fronteiras, 12(1), 98-109.
Gomes, N. L. (2017). O movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes.
Hage, A. S. M., & Barros, O. F. (2010). Currículo e Educação do Campo na Amazônia: Referências para o debate sobre a multisseriação na escola do campo. Espaço currículo, 3(1), 348-362
Morosini, M. C., & Fernandes, C. (2014). Estado do Conhecimento: conceitos,
finalidades e interlocuções. Educação Por Escrito, 5(2), 154-164.
Oliveira, K. R. (2019). Pedagogia da Ancestralidade e práticas ancestrais femininas: estratégias de Ewá, Obá e Olocum para empoderar as mulheres pretas contemporâneas. 2019. Recuperado de: https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/4633/2133. Acesso em 10/01/2024.
Ribeiro, D. (1995). O povo brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras.
Ribeiro, D. (1996). Os índios e a civilização. A integração das populações indígenas no Brasil moderno. São Paulo: Cia. das Letras.
Santos, B. S. (2019). O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul. Belo Horizonte: Autêntica Editora.
Santos, B. S., & Menezes, M. P. (Orgs.). (2009). Epistemologias do Sul (CES). Edições Almedina.SA.
Weisheimer, N., Araújo, M. S. R., & Leher, R. (2022). Questão agrária, formação social brasileira e dependência. Revista princípios, 163, 240-265. https://doi.org/10.4322/principios.2675-6609.2022.163.010
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Lucila Leal da Costa Araújo, Sérgio Roberto Moraes Corrêa

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Proposal for Copyright Notice Creative Commons
1. Policy Proposal to Open Access Journals
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
A. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License that allows sharing the work with recognition of its initial publication in this journal.
B. Authors are able to take on additional contracts separately, non-exclusive distribution of the version of the paper published in this journal (ex .: publish in institutional repository or as a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
C. Authors are permitted and encouraged to post their work online (eg .: in institutional repositories or on their website) at any point before or during the editorial process, as it can lead to productive exchanges, as well as increase the impact and the citation of published work (See the Effect of Open Access).